Gostaria de ter uma noção de como a Beatlemania e a Jovem Guarda te influenciaram.
 Tudo! Sem dúvida, as duas coisas mexeram muito conosco. O Calhambeque e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, canções deste tipo e as interpretações do Roberto, as formações sonoras e as atitudes. Tudo aquilo nos impressionou e nos interessou muito. É evidente que a coisa dos Beatles era bem mais profunda, do ponto de vista da intervenção na alma da canção popular, porque tinha todo aquele lado experimentalista e mais aventureiro. Tinha mesmo uma criação musical mais arrojada. Tinha o próprio George Martin, com as contribuições da música atonal, serial e concreta, as influências de Stockhausen e todas aquelas coisas – montagens, gravações, inserções de falas, vozes e ruídos. Enfim, eles tinham todo um procedimento vanguardista ligado a uma noção de intervenção, da qual eles eram os maiores representantes. Aquilo tudo nos tocou muito. Eu diria que as duas coisas, ainda que com intensidades um pouco diferentes, tiveram uma importância muito grande para nós.
Tudo! Sem dúvida, as duas coisas mexeram muito conosco. O Calhambeque e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, canções deste tipo e as interpretações do Roberto, as formações sonoras e as atitudes. Tudo aquilo nos impressionou e nos interessou muito. É evidente que a coisa dos Beatles era bem mais profunda, do ponto de vista da intervenção na alma da canção popular, porque tinha todo aquele lado experimentalista e mais aventureiro. Tinha mesmo uma criação musical mais arrojada. Tinha o próprio George Martin, com as contribuições da música atonal, serial e concreta, as influências de Stockhausen e todas aquelas coisas – montagens, gravações, inserções de falas, vozes e ruídos. Enfim, eles tinham todo um procedimento vanguardista ligado a uma noção de intervenção, da qual eles eram os maiores representantes. Aquilo tudo nos tocou muito. Eu diria que as duas coisas, ainda que com intensidades um pouco diferentes, tiveram uma importância muito grande para nós.
– Você acha que com seu livro “Verdade Tropical” você esclareceu toda a sua vida? Sua biografia até aquele momento está fechada?
Não, não. Não, de forma nenhuma. Eu suponho que jamais farei isso que você está dizendo: “fechar uma biografia”, tipo faz uma autobiografia o mais exaustiva possível.
Nos últimos 5 ou 6 anos nós tivemos no mercado dois livros sobre você e sobre sua obra – “Esse Cara” e “Por quê não?”. O que você achou desses trabalhos?
Ué, eu fiquei agradecido e achei interessantes, agora o livro que eu escrevi é um livro mais pra tocar nos assuntos e manter vivos os problemas que foram suscitados pelo Tropicalismo. Mas eu só fiz isso porque esse editor americano me convenceu, entendeu? Aí eu vi que servia pra isso também, me animei pra repensar as coisas e trazer à tona, repondo as coisas no lugar. Então é isso.
Você nunca tinha detalhado tanto o episódio de sua prisão com Gil, né?
Nunca, em lugar nenhum… (neste momento, Caetano vira o copo de refrigerante sobre seu colo e a entrevista é interrompida) Que coisa incrível, menino! (…) Bem, aquele capítulo do livro é quase um livro que pode até ser publicado separadamente.
Tava tudo fresquinho, na ponta da língua?
Cara, saiu fácil em geral. Agora, acontece que eu me baseei 100% na memória. Eu escrevi sozinho, não fiz nenhuma pesquisa e nem liguei pro Gil pra perguntar: “Gil, foi assim mesmo?” Nada. Agora, porque é que eu fiz isso eu não sei. Não foi uma decisão, é porque eu tava escrevendo pensando que aquilo eram anotações. Eu não tava escrevendo como se fosse um texto definitivo, entendeu? E, por fim, eu achei que não ia usar aquilo como anotações para fazer uma outra coisa. Eu não ia ter saco, ia ficar assim mesmo. Como tava saindo, eu ia deixando. Ficava pensando “depois eu pergunto às pessoas”.
O detalhe de quando você vai ser solto, que você já tem na cabeça a convicção de que será solto naquele dia. Aquilo foi uma experiência mística?
Eu não sei dizer. Eu acho muito estranho, não é uma coisa muito fácil pra minha mente. Mas também não é fácil porque não é também uma coisa 100% incompreensível e inexplicável. Você não faz perguntas e não faz adivinhações em relação ao futuro sem alguma base, entendeu? Você arrisca dentro de uma margem de possibilidades. As vezes você tem informações que já estão “ali no computador”, né? Por exemplo, você tá com tanta angústia naquela situação que fica com essas necessidades de premonição elevadas ao máximo, porque você tá numa ansiedade muito grande em relação ao futuro. Então você quer potencializar sua capacidade de adivinhar e isso se torna possível. Veja bem, você vai abrindo uma brecha pra entender o que é que vai acontecer no futuro. E você não vai perguntar aos sinais que você elege o que já sabe que definitivamente não vai acontecer. Você já começa a perguntar por um caminho plausível, e depois você vai intuindo uma série de coisas. Como, par exemplo, à altura em que nós fomos soltos, tinha justamente passado o Carnaval. Antes do Carnaval tinha havido um aumento da tensão porque eles entraram em prontidão, por causa de ser vésperas de Carnaval. Isso também repercutia em mim, naturalmente. Depois do Carnaval, a gente já tava lá há quase dois meses e o Carnaval tinha passado. Essas coisas todas você não pensa, mas você vai vendo e vai dando as possibilidades. Você vai deduzindo e vai entrando, entrando e entrando e vai vendo as possibilidades todas. E vai perguntando qual a música que está tocando no rádio, se aparece barata no chão e se o cara assobia uma música. Você vai indo, vai indo e vai indo e chega perto do que de fato acontece. Por um lado, surpreendentemente eu cheguei a uma precisão assustadora.
Foi única esta experiência?
Com esta precisão, eu nunca tive nada igual. A precisão de ser durante o almoço, isso daí é realmente é muito. Porém, ao mesmo tempo, o que aconteceu logo a seguir não é o essencial da minha pergunta que é se eu iria ser liberado naquela hora. Eu não fui liberado, acontece que chegou com exatidão perfeita – no momento em que eu previ a notícia. Porém, não houve verdadeira liberação. Eu recebi aquilo assustado, por ter adivinhado com tanta precisão, mas feliz porque “bom, agora vão me deixar sair!” Mas não, não foi nada assim. Pegaram eu e Gil, botaram dentro de um camburão e levaram pra Polícia Federal, pra botar a gente num avião e levar a gente pra Salvador. O avião não conseguiu levantar, eles trouxeram a gente de volta pra Polícia Federal. A gente tava com algema, foi horrível. Botaram a gente dentro da Polícia Federal de novo, pra dormir mais uma noite, e no outro dia levaram a gente pro avião da FAB. Levaram a gente pra Salvador, entregaram na Força Aérea e eles disseram que não tinham ordem de soltura. Prenderam a gente de novo, ficamos mais um dia presos em Salvador. Ainda por cima, finalmente quando saímos de lá, levaram a gente pra um coronel – que nos recebeu e nos disse que a gente tinha que se apresentar todas as noites e que não podia sair de Salvador, não podia dar entrevistas, não podia cantar e não podia trabalhar. Então, quer dizer, não aconteceu o essencial da minha pergunta. Na verdade, aquilo não deu certo não! Agora, aquele horariozinho deu precisamente… Então eu fico impressionado e sou um pouco cético. Eu fiquei impressionado.
É uma história que só você pode contar. E quanto ao livro do Tropicalismo escrito pelo Carlos Callado, você acha que conta bem a história pública do movimento?
É muito bom, eu acho que a história tá muito bem contada. Vista de fora, com objetividade, a história pública está muito bem contada e eu acho que é um livro que complementa muito bem o meu, entendeu? E achei o livro muito bom… e que corrige algumas coisas que estão no meu livro, de uma certa forma, e informa coisas que eu não contei… porque dá um painel geral. E eu adorei as fotografias que ele encontrou e selecionou pra botar. São incríveis.
E quanto aos outros dois livros, você coloborou de alguma maneira?
Nada.
Mas não chegam ser livros à revelia, né?
Não, as pessoas todas falaram comigo e são muito gentis. O rapaz çle Pernambuco (Héber Fonseca, autor de “Esse Cara”) morreu, mas com ele eu tive mais contato. Engraçado, ele me pediu mais e ele me procurou muito. E eu dei muitas informações, corrigindo algumas vezes. Mas tinha tantos erros no livro dele que eu corrigi, mas eu disse pra ele: “Olha, é tanta coisa, você tem que trabalhar, eu não posso fazer o livro pra você, você tem que trabalhar e refazer isso, pega essas coisas que eu corrigi e refaz isso… senão eu não posso nem permitir que o livro saia, porque tá muito errado”. Aí ele refez e… ficou meio assim, chorou um dia e ficou meio aborrecido. Falou com meu irmão, quando ele estava excursionando pelo Nordeste. Eu estive com ele em Fortaleza e no Recife; quer dizer, eu gostava dele. O outro livro é um trabalho mais acadêmico, mais intelectual, o que é muito bacana. Foi feito por um casal aqui do Rio, o Lucchesi e a Dieguez.
Caetano, fala um pouco do rock’n’roll. Em seu livro você o cita como influência, mas não como algo tão significativo quanto a Bossa Nova.
 Engraçado, eu não acho. Eu acho que foi muito significativo e na verdade o Tropicalismo foi como se fosse uma adesão roqueira da música popular brasileira. Eu canso de dizer que a gente misturou música de puteiro brasileira com tango argentino, neo-rock’n’roll inglês e música tradicional e música folclórica brasileira. Mas acontece que o rock não é uma coisa entre outros, porque a Bossa Nova é o nosso chão e é de onde nós viemos e onde vivíamos. Mas tudo o que não interessou à Bossa Nova, nos interessou, e o rock brasileiro de Roberto Carlos e da Jovem Gúarda, além dos Beatles, Jimi Hendrix e Rolling Stones, essas coisas foram essenciais pra nós. Mas também James Brown e a coisa soul, todas essas coisas foram essenciais, mas o rock tem uma característica de estilo hegemônico. Quando você. entra com ele, sobretudo naquela altura, você não pode simplesmente usar só um pouquinho. Ele não é um estilo formalmente definido, nem no “Rock Around The Clock” as músicas são todas parecidas entre si. Nos filmes de Elvis tem baladas meio antiquadas e depois uns 12-bar blues um pouco mais rápidos. O rock propriamente não é nada, é uma mistura de algumas coisas com a chegada de um número grande de jovens na cena. Foi um negócio muito grande, uma geração muito grande de classe média com poder aquisitivo, americana, mas não só lá. Pegou todo o ocidente, inclusive os países ocidentais do terceiro mundo. Isso se deve em parte ao crescimento econômico, pois veio toda uma geração de jovens que teve espaço pra se mover. O consumo precisa dos jovens e os jovens têm um lugar no consumo, então o rock veio a denominar o que resultar de tudo isso, embora não se definisse um estilo propriamente musical muito preciso. Então, quando você – naquela altura se você adere ao rock, é diferente de usar tango ou mencionar cantigas do início do século. De uma certa forma, você estava botando tudo na perspectiva do rock. Você estava aderindo à perspectiva do rock; ou seja, à perspectiva da juventude naquela altura. Só que já era uma altura em que tava se passando um movimento dentro da história do próprio rock – que é o que eu chamo de neo-rock’n’roll inglês, que foi uma coisa feita pelos Beatles e pelos Rolling Stones. Sobretudo pelos Beatles, porque eles deram ao rock um status que o rock não tinha antes. O rock era lixo, né? O rock era lixo, como muita gente pensa que o axé music é lixo hoje – ou o pagode ou o brega. Entendeu? Quer dizer, era uma época em que a gente ouvia Chet Baker e Miles Davis, então vinha Elvis Presley e Bill Haley. No Brasil, sinceramente, mal e porcamente. Se chegava, nunca chegou até mim gravações de Chuck Berry. Ninguém falava muito, era um nome remoto. Little Richard, um pouco mais, pois ele apareceu no filme “The Girl Can’t Help It”. Mas não era Elvis nem Bill Haley.
Engraçado, eu não acho. Eu acho que foi muito significativo e na verdade o Tropicalismo foi como se fosse uma adesão roqueira da música popular brasileira. Eu canso de dizer que a gente misturou música de puteiro brasileira com tango argentino, neo-rock’n’roll inglês e música tradicional e música folclórica brasileira. Mas acontece que o rock não é uma coisa entre outros, porque a Bossa Nova é o nosso chão e é de onde nós viemos e onde vivíamos. Mas tudo o que não interessou à Bossa Nova, nos interessou, e o rock brasileiro de Roberto Carlos e da Jovem Gúarda, além dos Beatles, Jimi Hendrix e Rolling Stones, essas coisas foram essenciais pra nós. Mas também James Brown e a coisa soul, todas essas coisas foram essenciais, mas o rock tem uma característica de estilo hegemônico. Quando você. entra com ele, sobretudo naquela altura, você não pode simplesmente usar só um pouquinho. Ele não é um estilo formalmente definido, nem no “Rock Around The Clock” as músicas são todas parecidas entre si. Nos filmes de Elvis tem baladas meio antiquadas e depois uns 12-bar blues um pouco mais rápidos. O rock propriamente não é nada, é uma mistura de algumas coisas com a chegada de um número grande de jovens na cena. Foi um negócio muito grande, uma geração muito grande de classe média com poder aquisitivo, americana, mas não só lá. Pegou todo o ocidente, inclusive os países ocidentais do terceiro mundo. Isso se deve em parte ao crescimento econômico, pois veio toda uma geração de jovens que teve espaço pra se mover. O consumo precisa dos jovens e os jovens têm um lugar no consumo, então o rock veio a denominar o que resultar de tudo isso, embora não se definisse um estilo propriamente musical muito preciso. Então, quando você – naquela altura se você adere ao rock, é diferente de usar tango ou mencionar cantigas do início do século. De uma certa forma, você estava botando tudo na perspectiva do rock. Você estava aderindo à perspectiva do rock; ou seja, à perspectiva da juventude naquela altura. Só que já era uma altura em que tava se passando um movimento dentro da história do próprio rock – que é o que eu chamo de neo-rock’n’roll inglês, que foi uma coisa feita pelos Beatles e pelos Rolling Stones. Sobretudo pelos Beatles, porque eles deram ao rock um status que o rock não tinha antes. O rock era lixo, né? O rock era lixo, como muita gente pensa que o axé music é lixo hoje – ou o pagode ou o brega. Entendeu? Quer dizer, era uma época em que a gente ouvia Chet Baker e Miles Davis, então vinha Elvis Presley e Bill Haley. No Brasil, sinceramente, mal e porcamente. Se chegava, nunca chegou até mim gravações de Chuck Berry. Ninguém falava muito, era um nome remoto. Little Richard, um pouco mais, pois ele apareceu no filme “The Girl Can’t Help It”. Mas não era Elvis nem Bill Haley.
Mas o rock teve o poder de pegar músicas antigas e apresentá-las pra juventude sob nova roupagem, né? Da mesma forma, eu acho que você particularmente tem o mesmo poder, quando – de vez em quando – pesca alguma pérola e mostra que é um verdadeiro clássico da música brasileira.
Na verdade, o rock naquela época tinha o poder de vulgarizar tudo o que tocava. Quer dizer, você ouvia Elvis Presley cantando música napolitana em inglês – com aquele ritmo meio assim; ou então, Roberto Carlos cantando Coimbra mais tarde. Era uma coisa de vulgarização – transformar em música comercial, popular e considerada de baixo nível coisas que antes eram até mais consideradas. Ou então, os Platters cantando Smoke Gets Into Your Eyes – aquilo era uma canção americana bonita, cantada por cantores sérios e bacanas. De repente, vira aquele rock balada com a orquestra às vezes desafinada.
Eu acho que você não entendeu minha pergunta. Vou refazê-la, talvez se encaixe melhor no papo. Você faz o caminho inverso, porque pesca pérolas mal arranjadas, mal interpretadas e mal gravadas, e mostra com sua elegância que elas podem ser verdadeiros clássicos de nossa música. Você não fez isso com Sonhos, do Peninha, e agora também com Sozinho?
Sonhos é uma obra-prima, né?
Mas foi você quem sacou isso, ela era um sucesso popular de rádio AM.
É, mas eu adoro a gravação do Peninha.
Você não tem consciência desse seu poder, de pegar uma pérola e transformá-la num clássico?
Bom, mas o João Gilberto fez isso muito melhor do que eu antes, né?
Sim, mas você está falando para as últimas gerações – para quem o João Gilberto não fala, entendeu? Você está mostrando isso!
A Bethânia já vinha fazendo isso antes de mim!
Mas Maria Bethânia é eminentemente intérprete, sempre foi. No seu caso, você é cantor e compositor… e, de vez em quando, pega umas músicas e mostra. Isso é uma responsabilidade sua, além de um privilégio.
“Fina Estampa” é um disco todo com essa consciência, estou confirmando o que você está dizendo. Mas não adianta você pegar uma música brega e fingir que ela é chic, trabalhando em cima dela. Acontece que elas são canções que têm uma beleza muito grande e com as quais eu entrei num contato muito profundo, por razões muito especiais. Eu tenho o meu repertório interno de referências, então, quando eu trago a canção vem com tudo isso. E, como ela passou por uma metabolização real dentro de mim, chega às pessoas de uma maneira convincente. Não adianta fazer deliberadamente, tem que acontecer com você e com a canção.
Quando você cantou O Calhambeque no disco da Jovem Guarda, aquilo foi o quê?
Foi tudo… Foi porque ia ser feito um disco e eles me chamaram. Eu adoro a gravação do Roberto. Eu vou dizer, antes de eu gostar do Roberto em geral, quando a gente só gostava de Bossa Nova, eu já gostava da gravação do Roberto… porque tinha muito swing! Até eu me lembro de umas pessoas entendidas em Bossa Nova, gente mais velha que nós e que conheciam o João Gilberto pessoalmente, até eles gostavam do Roberto Carlos cantando O Calhambeque. Porque o Roberto tem muito swing, ele canta muito bem. Aquilo ali era um disco de celebração comemorativa e me chamaram. Eu fui e gravei, gostava muito.
Você acha que, com todas aquelas pessoas do movimento ali presentes, isso tinha a ver? De repente muitas podem não ter entendido sua presença. “O que é que um tropicalista está fazendo num disco da Jovem Guarda?”
 Ah cara, na época do Tropicalismo eu fui o único cara a subir naquele queijinho onde só subiam Roberto, Erasmo e Wanderléa. Tá? No final, ficava todo mundo no palco e tinha um queijinho – um praticável redondo – onde todo domingo só subiam Wanderléa, Erasmo e Roberto. Eles fizeram questão de que eu subisse com eles mais de uma vez, depois que eu lancei Alegria Alegria e tudo aquilo foi feito do Tropicalismo. Eu conto no livro, o próprio Raul Seixas adorou o Tropicalismo e ficou muito estimulado a fazer tudo o que ele queria fazer depois que o Tropicalismo apareceu. Quando eu voltei de Londres, ele entrou em contato comigo e nós ficamos amigos. Conversávamos muito e eu adorei aquele primeiro disco dele. É espetacular, eu acho Ouro de Tolo uma das melhores canções já feitas no Brasil em todos os tempos. É espetacular. Agora, no período em que ele gostava de rock dos anos 50, isso é uma verdade, aquilo não era o meu mundo, nem de Gil e nem de Bethânia. A gente era da Bossa Nova, gostava de ouvir jazz, bossa nova e música boa. A gente achava rock um negócio muito precário, uma coisa muito quadrada e antiquada… e chata. Veio pra gente através do neo-rock’n’roll inglês, já foi uma coisa mais…
Ah cara, na época do Tropicalismo eu fui o único cara a subir naquele queijinho onde só subiam Roberto, Erasmo e Wanderléa. Tá? No final, ficava todo mundo no palco e tinha um queijinho – um praticável redondo – onde todo domingo só subiam Wanderléa, Erasmo e Roberto. Eles fizeram questão de que eu subisse com eles mais de uma vez, depois que eu lancei Alegria Alegria e tudo aquilo foi feito do Tropicalismo. Eu conto no livro, o próprio Raul Seixas adorou o Tropicalismo e ficou muito estimulado a fazer tudo o que ele queria fazer depois que o Tropicalismo apareceu. Quando eu voltei de Londres, ele entrou em contato comigo e nós ficamos amigos. Conversávamos muito e eu adorei aquele primeiro disco dele. É espetacular, eu acho Ouro de Tolo uma das melhores canções já feitas no Brasil em todos os tempos. É espetacular. Agora, no período em que ele gostava de rock dos anos 50, isso é uma verdade, aquilo não era o meu mundo, nem de Gil e nem de Bethânia. A gente era da Bossa Nova, gostava de ouvir jazz, bossa nova e música boa. A gente achava rock um negócio muito precário, uma coisa muito quadrada e antiquada… e chata. Veio pra gente através do neo-rock’n’roll inglês, já foi uma coisa mais…
Mas “Sgt. Pepper” bateu mais em Gil do que em você, não?
Não, os Beatles em geral bateram muito mais no Gil do que em mim. Bateu em mim também, eu achei “Sgt. Pepper” maravilhoso, mas quando “Sgt Pepper” saiu a gente já estava gostando dos Beatles. O Gil ficou louco e entusiasmado com Strawberry Fields Forever, que foi antes de “Sgt. Pepper”. Mas a gente já gostava de “Revolver” e de “Rubber Soul”, já tinha coisas que a gente estava gostando. Mas eu ouvia mais Jovem Guarda, eu tava mais interessado em Roberto Carlos.
Mas deve ter rolado um movimento contrário à sua subida naquele queijinho da Jovem Guarda, não? O pessoal, que era seu companheiro na cena musical, deve ter ficado perguntando “qual é a sua?”
Ih, todo mundo era contra. O pessoal da música brasileira era contra. Agora, por exemplo, eu falo que gosto da axé music porque gosto e porque sou do carnaval da Bahia. Aliás, eu estou indo para um show de Daniela Mercury. Eu adoro, gosto, e colegas meus – pessoas conhecidas – reclamam e a imprensa chia comigo porque eu gosto. Mas eu gosto, eu adoro, entendeu? Eu gosto sob todos os aspectos, pra mim é importante, entendeu? E agradável e importante pro Brasil. Eu gosto, não estou nessa do pessoal… mas não porque eu ache que a gente tenha que gostar de tudo, de qualquer jeito. Não é isso não, é porque eu sei que essas coisas representam movimentos dentro da sociedade brasileira. E também sei o que é que é estimulante pra mim, individualmente. Eu sou louco pelo carnaval da Bahia, pela música de carnaval, eu sempre gostei de carnaval. Sempre gostei de marchinha de carnaval do Rio de Janeiro e sempre gostei dos frevos pernambucanos, gosto das marchas de carnaval da Bahia que foram sendo feitos por trios elétricos desde que eu era menino e foram se desenvolvendo. Eu acho que esse desenvolvimento é uma coisa sempre importante. E como alguém que viu o desenvolvimento das escolas-de-samba e que adora. Você vai dizer o que pro cara? “Eu acho chato! Eu não suporto mulata de sapato alto, cheia de pluma!” Então o cara vai djzer pra você: “E daí? Foda-se, entendeu? E a história da minha vida, eu acompanhei isso e eu vivi todos os carnavais do Rio e estou interessado em ver onde é que vai dar tudo isso. Eu me preocupo e me interesso. Eu amo. Vá pra puta que pariu!” Eu digo a mesma coisa, aliás nos dois casos…
Essa sua opinião é importante, porque as pessoas a buscam. Isso influencia no mercado…
Como eu não sou prisioneiro do mercado, nem do sucesso e nem do comercial, então eu não tenho problema com isso. Isso não é um problema que me aflija, porque eu não me prendo a isso. Então eu acredito no aspecto de tudo isso, que é livre disso… e acho também que a questão do mercado é em si mesma interessante. Eu acho que houve umas mudanças no mercado brasileiro e que são de grande importância e que têm muito a ver com a presença de camadas da população brasileira que foram sempre proibidas de ser até reconhecidas como existentes. Eles estão aí e eu estou felicíssimo que elas estejam aí. Eu quero que venham mais, é um navio negreiro.
Mas elas sempre existiram, não através de músicas carnavalescas e alegres mas através de músicas bregas.
Peraí, música brega sempre teve, você não vai esconder, mas essas forças imensas de várias áreas do país nunca tinham chegado. Nem a presença massiva do sertanejo do centro-sul no litoral, nem Claudinho & Buchecha.
Mas nós tivemos Odair José nos anos 70.
Mas Odair José não é Claudinho & Buchecha!
O mercado era pequeno nos anos 70, disco vendia pouco. Mas, guardadas as devidas proporções…
O que estou dizendo é que o crescimento do mercado significa uma revitalização de várias áreas de expressão de várias camadas da sociedade brasileira. Eu acho que o crescimento numérico do mercado é de grande importância também. Nos anos 50 houve muita presença de muita música brega, a Bossa Nova foi contra isso e fez uma superação disso. Mas o João Gilberto nunca foi superficial quanto a isso, ele sempre trouxe o negócio todo. Ele sempre viu em profundidade a questão. Isso é que é a marca do gênio nele. O negócio dele foi o mais radical e ao mesmo tempo o menos estreito. Ele sempre viu o negócio todo com um espectro amplo. Então a Bossa Nova fez essa diferença, essa seleção mais rigorosa, e a gente precisa ter isso. A Bossa Nova pra mim é o que há de melhor à música popular no Brasil, e a gente precisa ter isso – parâmetros de norma, pessoas qualificadas que conduzam e que saibam criar níveis de resolução das questões estéticas da produção de música popular num nível alto. Agora, você não pode é entregar o que se consegue disso a poderes mediocrizantes, que querem exigir um rebanho de bom gosto numa área estreita e que em geral está escondendo um elitismo muito pobre, que é um elitismo de país-província. Eu quero o contrário, eu quero mais ousadia… porque eu não quero ser província de porra nenhuma. Eu sou tudo, é isso que quero que cada brasileiro sinta. Eu sou eu e vou fazer até o fim um negócio meu. Vou inventar sem medo – diante do mundo, para o mundo e contra o mundo, sobre o mundo, com o mundo, diretamente. É isso o que eu penso e, ao mesmo tempo, justamente por isso, não, quero fazer do Brasil um negócio que eu vou esnobar e olhar pras manifestações que não estejam no meu nível de convivência intelectual como se não valessem nada. Eu acho chato.
Mas a Bossa Nova não restringe um pouco?
Pouco não, ela restringe muito… e tem que restringir. Tem coisas que tem que fazer isso, ninguém é mais radical do que João Gilberto… mas João Gilberto não é estreito. Muitos seguidores não são tão radicais mas são muito mais estreitos, entendeu? Ficam mais no resguardo do que na ousadia da invenção e terminam contribuindo mais para que fique um negócio, embora em geral sejam todos muito bons e tragam e contribuam com um número de coisas importantes. Mas a visão do panorama em geral pode servir a pretensões medíocres, de pisar a manifestação da vida no Brasil… e isso eu não quero.
Gilberto Gil outro dia disse que não se deve reclamar de nada disso que aí está, porque “a merda de hoje é o que se comeu ontem e o que se come é sempre fertilizado pela bosta”. Você acha que isso que está acontecendo agora é decorrente de alguma outra coisa?
E, já é uma visão bem… Tudo isso é verdade, tá bom o que o Gil disse.
Esse fato de você estar aberto a tudo, aliado às suas manifestações públicas de apoio, isso faz com que muita gente interprete como uma maneira de apadrinhar ou abençoar certas coisas. Há alguns meses atrás, nós fizemos uma entrevista com Lobão e ele colocou essa posição numa denúncia de que existiria na cena cultural brasileira um “coronelismo”.
O Lobão já vem falando, há muitos anos que ele fala e reclama. De diversas maneiras, ele já disse coisas agressivas contra mim. Mas eu gosto dele, eu não consigo sentir uma coisa.
Ele também diz gostar de você, só acha que deveria haver um debate sobre isso.
É, eu gostaria que ele fizesse mais discos interessantes.
Ele está fazendo um disco de Bossa Nova…
É, que seja bom, né? Ele tem coisas tão bacanas, ele tem uma personalidade interessante. Então eu gosto dele, mas isso daí é bom. É bom também que alguém chie, mas o que é que eu posso fazer? Isso e nada pra mim é a mesma coisa, porque não adianta nada. Eu fiz uma porrada de músicas através dos anos, participei ativamente do movimento do Tropicalismo, estou aqui e tenho a minha visão e a minha posição. Exponho tudo com a maior transparência e clareza e quem quiser que faça disso o que quiser e puder. Eu não posso mudar e nem vou mudar pra agradar às pessoas ou pra facilitar a vida de quem quer que seja. E isso, se eu apadrinho ou abençoo, tomem como quiser. Eu não sei, eu me interesso por exemplo pelo fato de que os músicos do centro-sul tenham chegado ao nível de profissionalismo que eles chegaram e que cantem com afinação e que as bandas toquem muito bem e que o show seja muito bem acabado. Eu acho que isso é ganho pra nós, além do que as regiões do Brasil se intercomunicam – o que também é bom pra nós. Então é isso o que me interessa, que eu vou ver no carnaval a Daniela Mercury, a Ivete Sangalo ou o Netinho, e eles cantam 7 dias seguidos, 10 horas por dia, mantendo o nível profissional lá no pico de Las Vegas. Eles são estrelas nacionais… e internacionais, em muitos casos. Eles fazem isso no carnaval num nível espetacular, então eu gosto de ver isso. Eu gosto disso, quem quiser chiar que chie. Eu tô cagando, não tô nem aí. Eles não precisam de minha bênção e nem de porra nenhuma, eles andam com suas próprias pernas. Tem muitas coisas que eu falei – e que eu falo – e que as pessoas não dão a única importância.
A única coisa que eu falo como um conselho para os brasileiros, há anos e há décadas, é que parem no sinal vermelho. E eu não vejo, eu vejo poucas pessoas pensarem pelo menos em mim quando estão na frente de um sinal que está fechado. Eu acho que as pessoas deveriam parar no sinal vermelho, a qualquer hora do dia ou da noite. É o único conselho que tenho pra dar a qualquer brasileiro. Agora, ouçam o que quiser. Vocês não são obrigados a ouvir axé music, nem música de parintins e nem Claudinho & Buchecha. Agora, o Lobão também pode falar. O que vou fazer? Eu gosto dele, eu não consigo antipatizar com ele. Eu acho ele interessante, mas acho também que é chato que muitos colegas dele estejam fazendo discos e ele mesas redondas pra discutir. E ainda tem jornalista pra elogiar, porque “ele falando na mesa redonda foi bacana porque falou mal do colega”. Mas o colega dele tá fazendo disco bom e bem feito, então ele que vá fazer também. Isso éque importa, muito embora a discussão seja boa. Isso aí também é meio nada, também.
Com a virada do século e do milênio, você acha que a música brasileira e o cinema brasileiro podem mudar a visão do Brasil lá fora?
 A música é mais estável e a música popular brasileira se estabeleceu mundialmente com a Bossa Nova, de uma vez por todas. E nunca mais isso foi negado, porque as gerações que vieram a seguir – ao contrário de negar – confirmam isso. Eu digo isso sem falsa modéstia, mas, sobretudo por causa de Milton Nascimento, que é da minha geração e que veio depois da Bossa Nova. Ele é de uma geração que reconfirmou isso pros amantes da música popular sofisticada no mundo inteiro. E também a nossa coisa tropicalista atualmente está sendo entendida como uma coisa super sofisticada, pelos caras americanos mais modernos – tanto da imprensa, quanto os que fazem música. Então isso tudo é uma conquista, a música popular brasileira realmente conquistou uma coisa estável. A Bossa Nova encontrou uma respeitabilidade que se manteve, porque nós estamos em 1999 e ela chegou lá em 1962. Olha cara, a gravação de The Girl From Ipanema com Stan Getz e João Gilberto vendeu mais que os Beatles. Sérgio Mendes ficou anos estourado, depois tivemos Eumir Deodato. Mas o João Gilberto, que é o mais radical de todos, estourou impressionantemente com Astrud cantando com ele e Tom Jobim tocando piano, enquanto Stan Getz tocava saxofone. Aquilo estourou e nunca mais isso se desmentiu. Ao contrário, porque aquilo se manteve. A produção do Tom Jobim através dos anos só fez confirmar e o Frank Sinatra gravou tudo dele. Ella Fitzgerald também gravou, Sarah Vaughan gravou várias músicas. Os maiores cantores americanos gravaram e Chet Baker gravou Retrato em Branco e Preto. Miles Davis gravou Bossa Nova, gravou Tom Jobim e Aos Pés da Cruz só porque o João Gilberto tinha tocado daquele jeito. E foi ficando e isso nunca mais se perdeu, porque passam-se 10 anos e o que acontece? Milton Nascimento. Os caras falam: “Porra, é mais ainda! O negócio lá é muito!” Tem muita gente boa que faz música no mundo – nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e em todo lugar – e que fala que “a música brasileira é um ponto de referência de peso”. Agora, o cinema oscila mais e também tem que enfrentar um tipo de mercado mais complicado. Mas também, agora com essa volta, está com uma reafirmação muito boa… diferente do período do Cinema Novo – mais internacional, mais podendo entrar nos Estados Unidos, mais comercial e mais normal, pois o Cinema Novo foi mais instigação inventiva e experimental. Mas é, pode ser.
A música é mais estável e a música popular brasileira se estabeleceu mundialmente com a Bossa Nova, de uma vez por todas. E nunca mais isso foi negado, porque as gerações que vieram a seguir – ao contrário de negar – confirmam isso. Eu digo isso sem falsa modéstia, mas, sobretudo por causa de Milton Nascimento, que é da minha geração e que veio depois da Bossa Nova. Ele é de uma geração que reconfirmou isso pros amantes da música popular sofisticada no mundo inteiro. E também a nossa coisa tropicalista atualmente está sendo entendida como uma coisa super sofisticada, pelos caras americanos mais modernos – tanto da imprensa, quanto os que fazem música. Então isso tudo é uma conquista, a música popular brasileira realmente conquistou uma coisa estável. A Bossa Nova encontrou uma respeitabilidade que se manteve, porque nós estamos em 1999 e ela chegou lá em 1962. Olha cara, a gravação de The Girl From Ipanema com Stan Getz e João Gilberto vendeu mais que os Beatles. Sérgio Mendes ficou anos estourado, depois tivemos Eumir Deodato. Mas o João Gilberto, que é o mais radical de todos, estourou impressionantemente com Astrud cantando com ele e Tom Jobim tocando piano, enquanto Stan Getz tocava saxofone. Aquilo estourou e nunca mais isso se desmentiu. Ao contrário, porque aquilo se manteve. A produção do Tom Jobim através dos anos só fez confirmar e o Frank Sinatra gravou tudo dele. Ella Fitzgerald também gravou, Sarah Vaughan gravou várias músicas. Os maiores cantores americanos gravaram e Chet Baker gravou Retrato em Branco e Preto. Miles Davis gravou Bossa Nova, gravou Tom Jobim e Aos Pés da Cruz só porque o João Gilberto tinha tocado daquele jeito. E foi ficando e isso nunca mais se perdeu, porque passam-se 10 anos e o que acontece? Milton Nascimento. Os caras falam: “Porra, é mais ainda! O negócio lá é muito!” Tem muita gente boa que faz música no mundo – nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e em todo lugar – e que fala que “a música brasileira é um ponto de referência de peso”. Agora, o cinema oscila mais e também tem que enfrentar um tipo de mercado mais complicado. Mas também, agora com essa volta, está com uma reafirmação muito boa… diferente do período do Cinema Novo – mais internacional, mais podendo entrar nos Estados Unidos, mais comercial e mais normal, pois o Cinema Novo foi mais instigação inventiva e experimental. Mas é, pode ser.
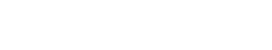







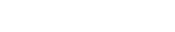









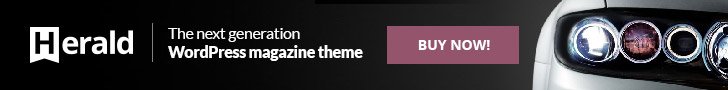
Add Comment